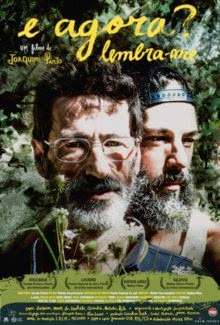Frank Miller volta a adaptar o seu universo de Sin City ao cinema, de novo com a colaboração de Robert Rodriguez na realização — este texto foi publicado no Diário de Notícias (27 Agosto), com o título 'Frank Miller reinventa o seu mundo assombrado'.
Para o melhor e para o pior, as aventuras cinematográficas do Verão têm sido, ao longo dos últimos anos, dominadas por figuras de super-heróis e aventuras mais ou menos galácticas. Frank Miller é uma das excepções, já que continua a fazer um cinema cujas raízes estão nas suas próprias bandas desenhadas, obsessivamente concebidas a preto e branco: Sin City: Mulher Fatal aí está a confirmar a sua fidelidade a um universo em que as memórias nostálgicas dos clássicos filmes “noir”, dominados por figuras como Humphrey Bogart ou James Cagney, se transformam agora num assombramento de violência física e cepticismo moral.
O título é revelador. Há uma “mulher fatal”, Ava Lord (interpretada pela francesa Eva Green), que teve uma relação com Dwight McCarthy (Josh Brolin), figura da noite que, na sua actividade de detective privado, tenta vencer os fantasmas da sua dependência do álcool. Agora casada com o magnate Damian Lord (Martin Csokas), Ava vai reeentrar na vida de Dwight, obrigando-o a enfrentar uma série de situações em que a simples possibilidade de sobrevivência é cada vez mais ténue...
 |
| Frank Miller |
A história de Ava/Dwight é apenas uma das linhas narrativas do filme, já que Miller concebeu Sin City: Mulher Fatal como uma encruzilhada de várias histórias que, de uma maneira ou de outra, passam sempre pelo bar onde dança Nancy Callahan (Jessica Alba). Daí um puzzle de personagens que inclui o inquietante Marv (Mickey Rourke), um marginal de força descomunal, Johnny (Joseph Gordon Levitt), um jogador de cartas que desafia o poder do senador Roarke (Powers Booth), e ainda Gail (Rosario Dawson), líder de uma pequeno tribo feminina que funciona como vigilante das noites da grande metrópole. Em pequenos papéis, surgem ainda Bruce Willis e Lady Gaga.
Tudo isto é encenado como um universo em que o artifício dos ambientes se combina com a angústia existencial das personagens. Dominam as componentes emblemáticas da BD de Miller, a começar pelo muito contrastado preto e branco — devedor dos ambientes expressionistas dos policiais das décadas de 1930/40 —, apenas aqui e ali contaminado pela emergência de alguma cor (por exemplo, os lábios vermelhos da personagem de Eva Green).
Sin City: Mulher Fatal é a segunda adaptação desta série de livros de Miller. Tal como na primeira, Sin City: Cidade do Pecado (2005), ele partilha a realização com Robert Rodriguez, cineasta revelado com o lendário El Mariachi (1992), símbolo da mais austera produção independente, que depois dirigiu, por exemplo, Aberto Até de Madrugada (1996) e Planeta Terror (2007). A solo, entre os dois filmes, Miller dirigiu The Spirit (2008), filme algo semelhante no tratamento visual, embora baseado numa obra de Will Eisner.